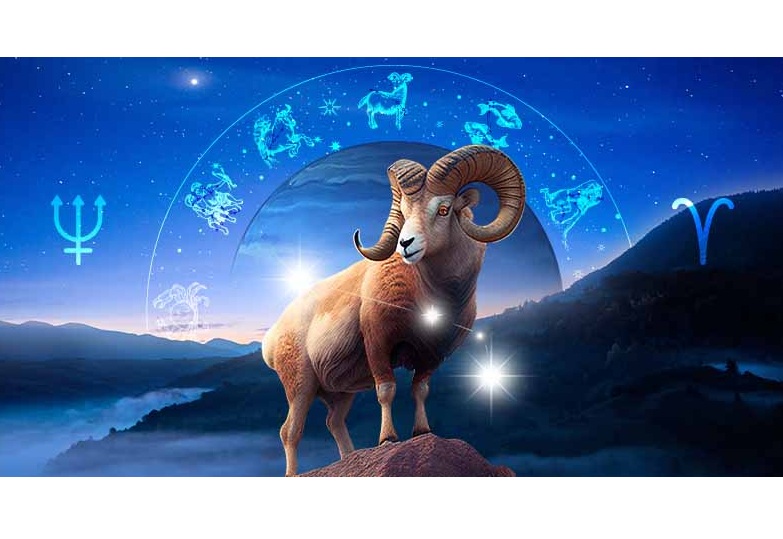No 30 de janeiro sempre se comemora, no Rio Grande do Sul , o Dia do Pajador Gaúcho. A comemoração é uma homenagem ao poeta e “payador” missioneiro Jayme Caetano Braun, que nasceu em 30 de janeiro de 1924, na Fazenda Santa Catarina, situada na localidade de Timbaúva, na época 3º distrito de São Luiz Gonzaga, hoje município de Bossoroca.
A ocasião serve para se refletir um pouco sobre as tradições riograndenses.
No Rio Grande do Sul, tanto quanto na Argentina, há uma espécie de ruptura entre a capital e o interior. Ambos têm origem gauchesca, mas, com seus respectivos desdobramentos, seja de afrodescendentes, como de imigrantes, alteraram a fisionomia e a cultura de suas capitais. Lá, Buenos Aires, foi praticamente ocupada pelos imigrantes italianos, que tiveram no Presidente Sarmiento, segunda metade do sec. XIX, um grande incentivador. Ele postulava que a origem do “atraso” do país, que o colocava nas malhas ambiciosas dos caudilhos, residia no interior nativo. Seu livro, “Facundo” , é um libelo contra essas raízes. A ruptura entre Buenos Aires e o interior chegou ao ponto dos argentinos designarem habitantes da capital como “porteños”, estranhos às tradições. Eles desembocaram no tango, de gosto universal… Aqui no Rio Grande do Sul, nossa origem nativa deriva das reduções jesuíticas, primeira delas fundada em 1626, por Roque Gonzalez, as quais, depois de destruídas pelos “bandeirantes”, voltaram a florescer nos Sete Povos das Missões, igualmente destruídos nas Guerras Guaraníticas, desta vez pelas tropas de Portugal e Espanha a serviço do cumprimento das cláusulas do Tratado de Madrid, de 1750. Constituíram, não obstante, numa verdadeira civilização, embora de caráter místico, bem analisadas em vários livros e hoje levadas às telas pelo belo documentário ‘Missões”, dirigido por Omar Ferreira Filho. A destruição das Missões coincidiu com o início da colonização lusitana sobre o Rio Grande. Primeiro chegou o desbravador Cristovam Pereira de Abreu que abriu o caminho das tropas pelo Morro dos Conventos, rumo a Sorocaba e Minas Geral. Ele próprio acompanhou, por terra, a fundação do Presídio de Rio Grande, em 1737, a qual se sucederia, a partir desta mesma data um processo de colonização açoriana em todo o litoral abaixo de Laguna. Chegaram em Porto Alegre em 1752, Daí, tendo em vista a ocupação castelhana de todo o litoral abaixo do Guaíba, em 1763, um certo José Marcelino de Figueiredo, convertido em Governador da Capitania, resolveu “inventar” Porto Alegre”, impondo-a como capital. Mal sabia ele da maldição das águas neste delta de cinco rios….
A cidade, entretanto, sempre se manteve como um lugar administrativo, lusitano, com suas sacadas e sacadões celebrando festas portuguesas, distante do que viria a ser o centro econômico e político do futuro Estado, o Pampa, das estâncias e do charque, cujo epicentro era Pelotas-Bagé. Até que, com a chegadas dos alemães ao Vale dos Sinos, em 1824, a montagem rápida de uma economia colonial na região e a construção de uma via férrea interligando-a a Porto Alegre, transformou a capital no último quartel do século XIX. Ela tomou ares novos, mais voltada “hacia fuera” do que “hacia dentro”. Passou a ser não só a maior cidade, como, a mais dinâmica, demográfica, com forte componente germânico, econômica e politica de todo o que seria Estado do Rio Grande do Sul, depois de Proclamação da República, em 1889. Deste período, até 1970, Porto Alegre se desenvolveu e dominou o Estado, distanciando-se, porém, de suas origens rurais e nutrindo, até, frente a ela uma certa afetação, senão desprezo. Disso resultou a reação nativista, já visível na literatura desde o Partenon Literário (1868-85), em Augusto Méier, Simões Lopes Neto, e Érico Veríssimo, estes dois últimos com livros, clássicos, publicados pela Globo em 1949. Já aí, alguns jovens gaúchos haviam retomado “as tradições rurais”, Paixão Cortes e Jaime Caetano Braun, entre eles, em 1947, num famoso desfile junto a estátua de Bento Gonçalves, na entrada da Azenha, a que os porto alegrenses desdenhavam como antigualhas. Desde então, o tradicionalismo ganha musculatura e se converte num poderoso instrumento de valorização, embora com vários erros e exacerbações, da épica riograndense (que o confronta com a intelligensia porto-alegrense) que será cantada pelos “payadores”.
Persiste, pois, a ruptura entre a “cultura cosmopolita” da inteligência porto-alegrense, voltada aos cânones europeus, e as “raízes” gauchescas herdadas do desencontro com os deserdados da colonização: povos originários, desertores, mestiços. A data, enfim, se oferece como momento de reflexão sobre o significado e projeções do regionalismo entre-nós.